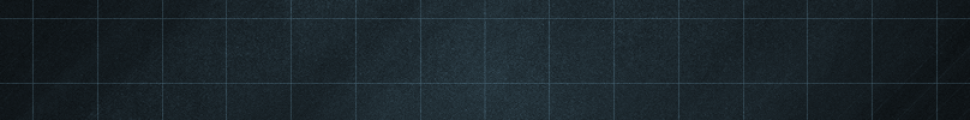A identidade de um país mediador deveria, em tese, inspirar confiança para ambos os atores conflitantes, uma vez que estes já alimentam arrazoadas suspeitas um pelo outro. Em relação ao conflito etnopolítico envolvendo Israel e a Palestina no Oriente Médio, imaginava-se que um ator extrarregional deveria ser teoricamente imparcial com relação aos litígios apresentados por uma e por outra parte. No entanto, na atual conjuntura internacional essa idealizada imparcialidade torna-se praticamente impossível. Recentemente, Israel declarou Lula como “persona non grata” após declarações do presidente brasileiro no âmbito da Cúpula Africana no último domingo (18), na Etiópia. Na ocasião, Lula disse que as ações do Exército israelense em Gaza não conheciam paralelo na história, a não ser quando se trata das políticas de destruição sistemática de judeus perpetradas pela Alemanha nazista. Lula olhou para o que vem ocorrendo em Gaza desde outubro do ano passado e emitiu uma opinião que, como consequência, provocou uma séria crise diplomática entre Brasília e Tel Aviv.
Na teoria e na prática, para o atual governo israelense de Benjamin Netanyahu, Lula figura como uma liderança inadequada para atuar como um possível mediador de paz. Como dito anteriormente, no entanto, o mundo real está muito distante de um mundo idealizado e mesmo países não diretamente envolvidos no conflito em Gaza são incapazes de não demonstrar preferências quanto às reivindicações seja de Israel seja dos palestinos. O que costuma imperar, muitas vezes, é uma compreensão unidimensional dos problemas em favor de um ou de outro, o que acaba envolvendo determinadas interpretações sobre como a paz deve ser alcançada na região.
Tomemos como exemplo os Estados Unidos. A estreita relação estratégica entre o país e Israel ao longo das últimas décadas leva, com razão, muitos observadores a argumentar que Washington não pode desempenhar o papel de um mediador honesto na resolução do conflito. Primeiro porque Israel representa a “testa de ferro” dos Estados Unidos na região, aliado principal para a manutenção de seus interesses geopolíticos e econômicos no Oriente Médio. Desde a Guerra Fria, aliás, Israel foi apoiado pelos americanos, dado o seu confronto global com a União Soviética – que detinha, por sua vez, a amizade de países árabes importantes como Síria e Egito. Tal relação estratégica também foi facilitada, sobretudo, pelo papel especial desempenhado pelo lobby pró-israelense no sistema político americano, que atravessa tanto os Partidos Democrata como o Republicano. Seja como for, após o Egito fazer as pazes com Israel em 1979 e a Jordânia em 1994 – e com a derrubada de Saddam Hussein no Iraque no início dos anos 2000 – a ameaça à existência do Estado de Israel notoriamente enfraqueceu. Ainda assim, Washington prosseguiu em sua orientação pró-Israel em tudo o que estivesse relacionado ao confronto árabe-israelense, o que não deixa de envolver, por certo, a causa palestina.
Considerando a natureza da política externa brasileira, no entanto, não se verifica uma tal aproximação para com Israel. Com os países árabes, por outro lado, o Brasil possui interesses mais voltados para o âmbito comercial do que propriamente político, com relações diplomáticas pautadas pelo pragmatismo. Ocorre, no entanto, que os Estados são comandados por pessoas e pessoas têm preferências, baseadas em sua própria experiência política e em suas visões de mundo. Se Lula é acusado pela oposição de ter feito declarações inaceitáveis com relação a Israel ou então de possuir uma visão unidimensional – pró-Palestina – dos eventos referentes ao conflito, não padeceria a oposição desse mesmo “mal”? Não teria ela (a oposição) uma visão unidimensional – nesse caso pró-Israel – e, de algum modo, insensível ao que vem ocorrendo em Gaza?
Se equiparar as ações de Israel às políticas genocidas da Alemanha nazista é para muitos um exagero, de igual modo não seria exagero justificar 30 mil (!) mortes palestinas como um “mero” efeito colateral das operações israelenses? Por acaso não seria de se esperar que: em um conflito tão complexo como este – envolvendo duas comunidades que passaram por tanta tragédia nas últimas décadas (judeus e palestinos) – existam queixas arrazoadas de um e de outro lado? Diante desse contexto, podemos sim questionar a ideia tradicional de imparcialidade a respeito de qualquer agente mediador que vier a participar de um processo de negociação entre israelenses e palestinos.
As palavras de Lula, por fim, apontaram sua inclinação não para com o Hamas, e sim para com o sofrimento da população palestina em Gaza. São coisas distintas. Outrossim, é certo que a comparação das ações de Israel com a Alemanha nazista pode ter minado a confiança das autoridades em Tel Aviv no chefe de Estado brasileiro, complicando uma futura reaproximação entre as partes. É verdade também que, no que diz respeito à participação do Brasil nos debates referentes a um processo de paz no Oriente Médio, Lula, via de regra, será mais bem visto pelas autoridades palestinas do que por Netanyahu. Por outro lado, não seria o caso então de admitir que também o Ocidente complicou e muito a sua posição mediadora, em vista de seu apoio deliberado e incondicional a Israel? Sobretudo quando olhamos para o número de vítimas em Gaza desde o início das operações.
Fato é que não existem fórmulas prontas em uma situação como essas. Nesse ínterim, preferências – sejam elas estratégicas ou políticas – por Israel ou pela causa palestina vão sendo evidenciadas por parte de diferentes chefes de Estado, conforme o conflito se prolonga e se complica. Mas a pergunta que fica é: daria para ser diferente? Chefes de Estado são seres humanos e, enquanto tal, possuem suas próprias inclinações e visões de mundo. Alguém é capaz de negar isso? Afinal, quem não tem preferências, que atire a primeira pedra.
As opiniões expressas neste artigo podem não coincidir com as da redação.
Fonte: sputniknewsbrasil